
Este espaço é primeiramente dedicado à DEUS, à PÁTRIA, à FAMÍLIA e à LIBERDADE. Vamos contar VERDADES e impedir que a esquerda, pela repetição exaustiva de uma mentira, transforme mentiras em VERDADES. Escrevemos para dois leitores: “Ninguém” e “Todo Mundo” * BRASIL Acima de todos! DEUS Acima de tudo!
Mostrando postagens com marcador opinião pública. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador opinião pública. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 8 de maio de 2020
CELSO DE MELLO, AGENTE PROVOCADOR - Percival Puggina
Marcadores:
Agente provocador,
arcaísmo,
bandidos,
Celso de Mello,
condução coercitiva,
DEMOCRACIA,
episódico,
esparso,
oficiais generais,
opinião pública
sexta-feira, 1 de maio de 2020
O abacaxi para descascar - Alon Feuerwerker
FSB Comunicação
Há algo errado num país onde a taxa de mortalidade política dos presidentes eleitos é de estonteantes 50%. Mais de dez vezes a da Covid-19 (e ainda tem a subnotificação). Jair Bolsonaro é o quinto presidente saído da urna desde a volta das eleições diretas para o Palácio do Planalto em 1989, e agora começa a sofrer, como a maioria, o cerco e a tentativa de aniquilamento. Vamos ver como ele se sai. Não que os substitutos estejam imunizados contra o problema. Viram alvo instantaneamente quando sentam na cadeira. O vice de Fernando Collor, Itamar Franco, só escapou da liquidação quando finalmente aceitou ser um presidente decorativo e nomeou Fernando Henrique Cardoso para a Fazenda. Ou primeiro-ministro. Saciou ali a sede de poder dos que sempre querem muito mandar mas só de vez em quando têm os votos para tal.
Para cruzar a correnteza, Michel Temer precisou usar todo o repertório de ás da hoje estigmatizada velha política. Foi ajudado por um fato singular, que Dilma Rousseff não conseguiu manobrar para ela própria: como estava quase todo mundo meio encrencado com a Lava Jato, estabeleceu-se no mundo político um certo espírito de corpo e Temer foi usado de boi de piranha. Para dar tempo de pelos menos um punhado de bois atravessarem.
Qual é então o problema? Algum deve mesmo haver, porque definitivamente os índices brasileiros de perecimento político presidencial não são normais. Uns dirão que o povo não sabe votar bem. Hipótese não verificável. Outros, que o presidencialismo é um sistema bichado. Contra isso, observem-se as dificuldades mundo afora para formar e manter governos estáveis em parlamentarismos onde o bipartidismo colapsou.
O xis da questão é outro. O sistema aqui está organizado para impedir que o presidente da República escolhido pelo povo consiga governar com quem o elegeu. Isso seria possível apenas se o presidente trouxesse com ele, da mesma urna, uma maioria parlamentar. As regras brasileiras forçam exatamente o contrário: desde a Constituinte, nunca um presidente eleito levou à Câmara dos Deputados e ao Senado maiorias orgânicas.
Notem, caro leitor e cara leitora, que quando a opinião pública encasqueta com um governo essa ingovernabilidade potencial é apresentada como algo bom, e o governante que tenta formar base parlamentar é acusado de “comprar votos”. Já quando o governo é, digamos, bem visto, lamenta-se a fragmentação e surgem os apelos pelo aperfeiçoamento da articulação política. E a distribuição de cargos e verbas adquire verniz algo republicano.
Jair Bolsonaro está em xeque principalmente porque
1) resolveu surfar na conversa de que haveria uma nova política e subestimou a necessidade de sustentação parlamentar e
2) trouxe para dentro do governo em posições de poder potenciais opositores da reeleição dele em 2022. Ingenuidade. Quer (precisa) corrigir a rota agora em condições mais desfavoráveis, no meio de uma pandemia e com a economia ameaçada de ir a pique.
Um abacaxi não trivial de descascar.
Alon Feuerwerker, jornalista e analista político
Há algo errado num país onde a taxa de mortalidade política dos presidentes eleitos é de estonteantes 50%. Mais de dez vezes a da Covid-19 (e ainda tem a subnotificação). Jair Bolsonaro é o quinto presidente saído da urna desde a volta das eleições diretas para o Palácio do Planalto em 1989, e agora começa a sofrer, como a maioria, o cerco e a tentativa de aniquilamento. Vamos ver como ele se sai. Não que os substitutos estejam imunizados contra o problema. Viram alvo instantaneamente quando sentam na cadeira. O vice de Fernando Collor, Itamar Franco, só escapou da liquidação quando finalmente aceitou ser um presidente decorativo e nomeou Fernando Henrique Cardoso para a Fazenda. Ou primeiro-ministro. Saciou ali a sede de poder dos que sempre querem muito mandar mas só de vez em quando têm os votos para tal.
Para cruzar a correnteza, Michel Temer precisou usar todo o repertório de ás da hoje estigmatizada velha política. Foi ajudado por um fato singular, que Dilma Rousseff não conseguiu manobrar para ela própria: como estava quase todo mundo meio encrencado com a Lava Jato, estabeleceu-se no mundo político um certo espírito de corpo e Temer foi usado de boi de piranha. Para dar tempo de pelos menos um punhado de bois atravessarem.
Qual é então o problema? Algum deve mesmo haver, porque definitivamente os índices brasileiros de perecimento político presidencial não são normais. Uns dirão que o povo não sabe votar bem. Hipótese não verificável. Outros, que o presidencialismo é um sistema bichado. Contra isso, observem-se as dificuldades mundo afora para formar e manter governos estáveis em parlamentarismos onde o bipartidismo colapsou.
O xis da questão é outro. O sistema aqui está organizado para impedir que o presidente da República escolhido pelo povo consiga governar com quem o elegeu. Isso seria possível apenas se o presidente trouxesse com ele, da mesma urna, uma maioria parlamentar. As regras brasileiras forçam exatamente o contrário: desde a Constituinte, nunca um presidente eleito levou à Câmara dos Deputados e ao Senado maiorias orgânicas.
Notem, caro leitor e cara leitora, que quando a opinião pública encasqueta com um governo essa ingovernabilidade potencial é apresentada como algo bom, e o governante que tenta formar base parlamentar é acusado de “comprar votos”. Já quando o governo é, digamos, bem visto, lamenta-se a fragmentação e surgem os apelos pelo aperfeiçoamento da articulação política. E a distribuição de cargos e verbas adquire verniz algo republicano.
Jair Bolsonaro está em xeque principalmente porque
1) resolveu surfar na conversa de que haveria uma nova política e subestimou a necessidade de sustentação parlamentar e
2) trouxe para dentro do governo em posições de poder potenciais opositores da reeleição dele em 2022. Ingenuidade. Quer (precisa) corrigir a rota agora em condições mais desfavoráveis, no meio de uma pandemia e com a economia ameaçada de ir a pique.
Um abacaxi não trivial de descascar.
Alon Feuerwerker, jornalista e analista político
Marcadores:
boi de piranha,
estigmatizada,
ingovernabilidade,
Itamar Franco,
O abacaxi para descascar,
opinião pública,
pique,
urna
segunda-feira, 27 de abril de 2020
Os riscos e a prudência - Alon Feuerworker
Análise Política
Tentar decifrar o que vai no pensamento alheio é sempre meio
estrambótico. Tipo aquelas especulações “o presidente pensou em nomear
fulano, mas acabou nomeando sicrano”. Um exemplo de afirmação
indesmentível. Quem poderá mesmo garantir que o sujeito pensou em algo,
ou deixou de pensar? E assim segue a vida. Outra excentricidade é imaginar que todas as ações de governos e
governantes são previamente pensadas e planejadas para atingir
determinados objetivos, e sempre obedecendo a um bem elaborado e
pré-estabelecido cenário. Parte do pressuposto, em geral, de que o
governante é um gênio.
Esses dois mecanismos mentais derivam em parte da necessidade compulsiva de que tudo tenha uma explicação lógica, necessidade que é irmã siamesa do desejo de acreditar que as decisões de quem nos lidera têm sempre um fundo racional. O paralelismo mais comum, usado à exaustão, é com piloto de avião e comandante de embarcação. Pululam as teorias sobre a razão da saída de Sérgio Moro. Todas merecem ser jornalisticamente investigadas. Então eu vou participar também com algum “especulol”. E se Jair Bolsonaro forçou a demissão para evitar que um potencial adversário em 2022 continuasse se criando e ganhando musculatura política de dentro do governo?
Perguntei aqui em janeiro: “E se Moro virar o candidato do ‘centro’?”. Sabe-se que
Esses dois mecanismos mentais derivam em parte da necessidade compulsiva de que tudo tenha uma explicação lógica, necessidade que é irmã siamesa do desejo de acreditar que as decisões de quem nos lidera têm sempre um fundo racional. O paralelismo mais comum, usado à exaustão, é com piloto de avião e comandante de embarcação. Pululam as teorias sobre a razão da saída de Sérgio Moro. Todas merecem ser jornalisticamente investigadas. Então eu vou participar também com algum “especulol”. E se Jair Bolsonaro forçou a demissão para evitar que um potencial adversário em 2022 continuasse se criando e ganhando musculatura política de dentro do governo?
Perguntei aqui em janeiro: “E se Moro virar o candidato do ‘centro’?”. Sabe-se que
1) a principal oposição ao presidente desde o início do
mandato é a busca de um “bolsonarismo sem Bolsonaro”; e
2) até agora os
candidatos a liderar esse bloco potencial não demonstram musculatura
suficiente, pelo menos nas pesquisas.
A demissão de Moro abre-lhe a possibilidade de disputar o posto agora sem amarras. Mas depende de ele conseguir provocar a amputação do mandato presidencial. Por meio do Congresso ou da Justiça. E depende de um segundo fator: caso Bolsonaro saia, impedir que o vice se consolide na cadeira rumo a 2022. É um jogo em que tudo tem de dar muito certo. Nada pode dar errado. Uma jogada de alto risco.
Talvez por raciocínio, talvez por intuição, Bolsonaro leva jeito de ter forçado mesmo a demissão de Moro. Poderia eventualmente ter seguido a dança e não feito publicar logo pela manhã no Diário Oficial a exoneração do chefe da Polícia Federal. Imagino que soubesse: ficar nesta circunstância seria humilhante demais para o ex-juiz da celebrada Lava-Jato. E já que estamos falando em risco, o de Bolsonaro é o impeachment ou alguma outra modalidade legal de afastamento. Neste momento, são bem minoritárias as forças políticas que desejam isso de coração. Exatamente porque não são elas que comerão o bolo se organizarem a festa. Ou vai ser Moro, ou vai ser (Hamilton) Mourão.
A resistência dos políticos nunca é garantia, mais ainda quando a chamada opinião pública entra em modo de campanha para supostamente salvar o Brasil, algo que se dá de tempos em tempos. Entretanto, pensando bem, é um processo que já vinha sendo ensaiado. Então é possível que Bolsonaro tenha decidido limpar a área, mesmo que à beque de fazenda.
Ainda falando em risco, um adicional para Moro é sua onda ser surfada por quem deseja tirar o presidente e depois o ex-ministro ser simplesmente abandonado em favor de quem estará na cadeira com a caneta na mão e isento de culpa na confusão. Sobre isso, cumpre notar que o retrospecto do destino dos heróis dos recentes impeachments recomenda alguma prudência.
A demissão de Moro abre-lhe a possibilidade de disputar o posto agora sem amarras. Mas depende de ele conseguir provocar a amputação do mandato presidencial. Por meio do Congresso ou da Justiça. E depende de um segundo fator: caso Bolsonaro saia, impedir que o vice se consolide na cadeira rumo a 2022. É um jogo em que tudo tem de dar muito certo. Nada pode dar errado. Uma jogada de alto risco.
Talvez por raciocínio, talvez por intuição, Bolsonaro leva jeito de ter forçado mesmo a demissão de Moro. Poderia eventualmente ter seguido a dança e não feito publicar logo pela manhã no Diário Oficial a exoneração do chefe da Polícia Federal. Imagino que soubesse: ficar nesta circunstância seria humilhante demais para o ex-juiz da celebrada Lava-Jato. E já que estamos falando em risco, o de Bolsonaro é o impeachment ou alguma outra modalidade legal de afastamento. Neste momento, são bem minoritárias as forças políticas que desejam isso de coração. Exatamente porque não são elas que comerão o bolo se organizarem a festa. Ou vai ser Moro, ou vai ser (Hamilton) Mourão.
A resistência dos políticos nunca é garantia, mais ainda quando a chamada opinião pública entra em modo de campanha para supostamente salvar o Brasil, algo que se dá de tempos em tempos. Entretanto, pensando bem, é um processo que já vinha sendo ensaiado. Então é possível que Bolsonaro tenha decidido limpar a área, mesmo que à beque de fazenda.
Ainda falando em risco, um adicional para Moro é sua onda ser surfada por quem deseja tirar o presidente e depois o ex-ministro ser simplesmente abandonado em favor de quem estará na cadeira com a caneta na mão e isento de culpa na confusão. Sobre isso, cumpre notar que o retrospecto do destino dos heróis dos recentes impeachments recomenda alguma prudência.
Alon Feuerworker, jornalista e analista político - Análise Política
Marcadores:
alheio,
estrambótico,
fulano,
irmã siamesa,
opinião pública,
Os riscos e a prudência,
pensamento,
sicrano
quarta-feira, 4 de março de 2020
Que acordo é esse? - Nas entrelinhas
“Se houvesse mais transparência nas emendas parlamentares, talvez existisse menos desconfiança da opinião pública em relação à destinação dos recursos do Orçamento”
Ninguém sabe ao certo qual foi o acordo celebrado entre o presidente
do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente Jair Bolsonaro para a
aprovação do Orçamento de 2020. Em tese, o que foi acertado foi a
manutenção dos vetos presidenciais às emendas impositivas no valor de R$
30 bilhões em troca de três PLNs (Projeto de Lei do Congresso Nacional)
enviados pelo governo, que seguirão o rito normal, passando pela
Comissão Mista de Orçamento, antes de serem deliberados pelo plenário do
Congresso. Houve uma negociação confusa, que envolveu também o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia,
Paulo Guedes. E faltou clima para as votações, que foram adiadas para
hoje.
No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou: “Não houve qualquer negociação em cima dos 30 bilhões”. Segundo o presidente da República, “a proposta orçamentária original do governo foi 100% mantida” e “está garantida a autonomia orçamentária do Executivo”. O problema são os PLNs, que enfrentam resistências. Um deles, por exemplo, reduz de R$ 9 bilhões para zero o superavit de estados e municípios. Com isso, o deficit primário de R$ 118,9 bilhões da União sobe para R$ 124,1 bilhões. Era a meta no projeto original da lei, enviado ao Congresso em 15 de abril.
A reviravolta nas negociações foi patrocinada pelo MDB no Senado, cuja bancada anunciou ontem, pela manhã, que apoiaria integralmente os vetos de Bolsonaro. Com isso, mesmo que os deputados quisessem derrubá-los, não haveria votos suficientes no Senado. A manobra das raposas do MDB relativizou o papel de Alcolumbre e deixou vendido o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que negociava a derrubada ao menos de um dos vetos do presidente da República, relativo aos recursos destinados à pesquisa, ciência e tecnologia. O assunto passou a ser objeto de um dos PLNs. Os partidos do novo Centrão na Câmara (PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, PTB, Pros, PSC, Avante e Patriota) seriam os grandes beneficiados pelo pacote de quase R$ 16 bilhões em emendas impositivas do relator, mas foram com muita sede ao pote.
Houve forte reação no Senado, inclusive, nesses partidos. Líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) ironizava a situação: “O novo líder do governo é o Randolfe Rodrigues (Rede-AP)”. O senador de oposição faz parte do grupo Muda Senado, que, desde o primeiro momento, defendeu a manutenção do veto, ao lado dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Álvaro Dias (Podemos-PR), Tasso Jereissati (PSDB) e Antônio Anastasia (PSD). “O veto vai ser mantido. Ponto. Agora, o ponto de discórdia é outro. "Precisamos olhar com mais calma para esses três PLNs antes de votar, eles precisam seguir o rito normal, passar pelo CMO antes. Não vamos ser tratorados”, reclamava Randolfe. A discussão sobre as emendas impositivas uniu setores da base do governo no Senado, como o Major Olímpio (PSL-SP), e a oposição.
Governabilidade
Enquanto as articulações de cúpula transcorriam, o baixo clero do Congresso disseminava versões. Uma delas é de que Bolsonaro teria ameaçado participar das manifestações de 15 de março se os vetos não fossem mantidos. Se tem uma coisa de que os políticos não gostam é de confrontar o povo na rua, a manifestação convocada pelos aliados de extrema-direita e apoiada por Bolsonaro nas suas redes de WhatsApp passou a ser um vetor das decisões no Congresso, que trabalha para esvaziá-la. Tanto no Palácio do Planalto como no Congresso, os moderados entraram em campo para negociar o acordo. Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, realizava um encontro fora da agenda e sigiloso com os líderes da manifestação, para tentar transformá-la num ato a favor das reformas.
Guedes foi um personagem importante nas negociações com o Congresso, pois sua equipe foi a responsável pela elaboração dos projetos de lei. Um deles regulamenta a execução das emendas impositivas, outro mantém R$ 15 bilhões em emendas individuais e de bancada, além do já citado, que zerava o superavit dos estados. Com isso, o governo recupera R$ 15 bilhões que haviam sido destinados às emendas do relator. O desfecho dessa confusão é um momento político importante, porque trouxe a política de volta às relações do Palácio do Planalto com o Congresso, ainda que por caminhos bastante tortuosos.
Ao desprezar as articulações políticas, Bolsonaro pôs em risco a própria governabilidade. Os políticos, por sua vez, se viram diante da reação de setores de extrema-direita que desejam um regime autoritário. As manifestações de 15 de março serão um teste de força, tanto para Bolsonaro como para o Congresso. Aprovar o Orçamento da União é uma prerrogativa dos políticos, mas isso exige responsabilidade quanto ao equilíbrio das contas públicas e à boa aplicação dos recursos. Se houvesse mais transparência nas negociações das emendas parlamentares, talvez existisse menos desconfiança da opinião pública em relação à justa destinação e correta execução dos recursos financeiros do Orçamento da União.
Nas Entrelinhas - Luiz Carlos Azedo - Correio Braziliense
No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou: “Não houve qualquer negociação em cima dos 30 bilhões”. Segundo o presidente da República, “a proposta orçamentária original do governo foi 100% mantida” e “está garantida a autonomia orçamentária do Executivo”. O problema são os PLNs, que enfrentam resistências. Um deles, por exemplo, reduz de R$ 9 bilhões para zero o superavit de estados e municípios. Com isso, o deficit primário de R$ 118,9 bilhões da União sobe para R$ 124,1 bilhões. Era a meta no projeto original da lei, enviado ao Congresso em 15 de abril.
A reviravolta nas negociações foi patrocinada pelo MDB no Senado, cuja bancada anunciou ontem, pela manhã, que apoiaria integralmente os vetos de Bolsonaro. Com isso, mesmo que os deputados quisessem derrubá-los, não haveria votos suficientes no Senado. A manobra das raposas do MDB relativizou o papel de Alcolumbre e deixou vendido o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que negociava a derrubada ao menos de um dos vetos do presidente da República, relativo aos recursos destinados à pesquisa, ciência e tecnologia. O assunto passou a ser objeto de um dos PLNs. Os partidos do novo Centrão na Câmara (PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, PTB, Pros, PSC, Avante e Patriota) seriam os grandes beneficiados pelo pacote de quase R$ 16 bilhões em emendas impositivas do relator, mas foram com muita sede ao pote.
Houve forte reação no Senado, inclusive, nesses partidos. Líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) ironizava a situação: “O novo líder do governo é o Randolfe Rodrigues (Rede-AP)”. O senador de oposição faz parte do grupo Muda Senado, que, desde o primeiro momento, defendeu a manutenção do veto, ao lado dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Álvaro Dias (Podemos-PR), Tasso Jereissati (PSDB) e Antônio Anastasia (PSD). “O veto vai ser mantido. Ponto. Agora, o ponto de discórdia é outro. "Precisamos olhar com mais calma para esses três PLNs antes de votar, eles precisam seguir o rito normal, passar pelo CMO antes. Não vamos ser tratorados”, reclamava Randolfe. A discussão sobre as emendas impositivas uniu setores da base do governo no Senado, como o Major Olímpio (PSL-SP), e a oposição.
Governabilidade
Enquanto as articulações de cúpula transcorriam, o baixo clero do Congresso disseminava versões. Uma delas é de que Bolsonaro teria ameaçado participar das manifestações de 15 de março se os vetos não fossem mantidos. Se tem uma coisa de que os políticos não gostam é de confrontar o povo na rua, a manifestação convocada pelos aliados de extrema-direita e apoiada por Bolsonaro nas suas redes de WhatsApp passou a ser um vetor das decisões no Congresso, que trabalha para esvaziá-la. Tanto no Palácio do Planalto como no Congresso, os moderados entraram em campo para negociar o acordo. Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, realizava um encontro fora da agenda e sigiloso com os líderes da manifestação, para tentar transformá-la num ato a favor das reformas.
Guedes foi um personagem importante nas negociações com o Congresso, pois sua equipe foi a responsável pela elaboração dos projetos de lei. Um deles regulamenta a execução das emendas impositivas, outro mantém R$ 15 bilhões em emendas individuais e de bancada, além do já citado, que zerava o superavit dos estados. Com isso, o governo recupera R$ 15 bilhões que haviam sido destinados às emendas do relator. O desfecho dessa confusão é um momento político importante, porque trouxe a política de volta às relações do Palácio do Planalto com o Congresso, ainda que por caminhos bastante tortuosos.
Ao desprezar as articulações políticas, Bolsonaro pôs em risco a própria governabilidade. Os políticos, por sua vez, se viram diante da reação de setores de extrema-direita que desejam um regime autoritário. As manifestações de 15 de março serão um teste de força, tanto para Bolsonaro como para o Congresso. Aprovar o Orçamento da União é uma prerrogativa dos políticos, mas isso exige responsabilidade quanto ao equilíbrio das contas públicas e à boa aplicação dos recursos. Se houvesse mais transparência nas negociações das emendas parlamentares, talvez existisse menos desconfiança da opinião pública em relação à justa destinação e correta execução dos recursos financeiros do Orçamento da União.
Nas Entrelinhas - Luiz Carlos Azedo - Correio Braziliense
Marcadores:
Clima,
Major Olímpio e Randolfe Rodrigues,
opinião pública,
Que acordo é esse?,
raposas do MDB
segunda-feira, 2 de março de 2020
Marcha da insensatez - Denis Lerrer Rosenfield
O Estado de S. Paulo
Sábios seriam o presidente e seu grupo se cancelassem as manifestações do dia 15
O governo está manifestamente desorientado. Adotou desde o início a política do confronto, baseada na distinção amigo/inimigo, em que o outro sempre aparece como alguém a ser neutralizado ou eliminado. O esquema permanece sempre o mesmo, muda apenas o alvo. Pode ser um partido de oposição, pode ser um(a) jornalista, pode ser a imprensa em geral, pode ser todo aquele que discorde, por uma ou outra razão, de alguma política governamental. A prática democrática corre ao largo de tal concepção, por estar baseada no diálogo, na ponderação e na negociação.
Acontece, porém, que tal processo ganha outra significação quando o
inimigo passa a ser a própria instituição democrática, como se ela fosse
um empecilho para a política a ser implementada. Se a democracia se
torna um obstáculo, é porque está em pauta um claro pendor autoritário. A
manifestação prevista para o dia 15 é um claro exemplo disso, por estar
focada no Congresso Nacional, entendido não como um Poder independente,
mas como uma facção a ser suprimida. [a conduta do Congresso Nacional de não deixar o presidente da República governar é que gerou a necessidade da manifestação.
Afinal, este Congresso forçou o Poder Executivo a não vetar o FUNDO ELEITORAL.
O Congresso Nacional quer independência e harmonia, desde que os presidentes da Câmara e do Senado possam colocar o Poder Executivo - que não é subordinado ao Poder Legislativo e/ou Poder Judiciário - para 'dançar' conforme queiram.]
Ao final, apresentamos links com comentários que certamente ajudarão a decidir ir ou não ir à manifestação.]
Note-se que um argumento frequentemente utilizado diz respeito a que o
presidente, eleito dada essa legitimidade, está autorizado a fazer
qualquer coisa. Para além do fato óbvio de um presidente se encontrar
constitucionalmente limitado, caso contrário seria um tirano, a Câmara
dos Deputados e o Senado têm igual legitimidade, por serem os seus
representantes igualmente eleitos pelo voto popular. [legitimidade que não autoriza às duas Casas do Poder Legislativo a colocarem 'cabresto' no Poder Executivo.] Ambos são frutos da
soberania popular, usufruindo as mesmas prerrogativas.
No entanto, o presidente e o seu grupo familiar e digital optaram pelo
confronto com a Câmara e o Senado, isto é, escolheram o enfrentamento
como outra expressão da vontade popular, pressionando o País para uma
ruptura institucional. Se o governo é contrariado, basta eliminar o
opositor, no caso, o Legislativo, como se esse Poder devesse ser
simplesmente submisso à vontade presidencial.
Uma vez a celeuma instalada, começam a se suceder supostos desmentidos,
segundo os quais a mensagem das redes sociais não foi bem a que veio a
se tornar pública, após sucessivas reviravoltas em que nem um
equilibrista consegue se manter em pé, procedimento, aliás, típico do
atual governo. Quando a reação não for a esperada, dá-se um
“desmentido”, seguido por outro, numa trapalhada sem fim.
O problema é que fica no caminho o ataque a jornalistas respeitadas,
refiro-me aqui a Vera Magalhães, do Estadão, e antes Patrícia Campos
Mello, da Folha de S.Paulo. Ambas nada mais fizeram que um trabalho
sério. O resultado, porém, foram ataques de baixo nível, ameaças e,
institucionalmente, o questionamento do próprio trabalho da imprensa,
pejorativamente tratada de “extrema imprensa”. Contudo a “extrema
imprensa” só deve ser extrema na defesa das liberdades, que são
ameaçadas por aqueles que a atacam.
O governo tem uma nítida dificuldade de articular politicamente os seus
projetos. A reforma da Previdência passou mais pela habilidade do
deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com o apoio do presidente
do Senado, David Alcolumbre, do que por uma efetiva articulação
presidencial. Uma vez aprovada a reforma, nada mais conseguiu, fazendo
com que os seus ataques dobrem, quando são apenas o produto precisamente
dessa falta de negociação. Reformas não avançam se não forem o resultado do diálogo entre os Poderes. Atos de imposição ou de força de nada adiantam.
O atual momento torna-se ainda mais problemático pelo fato de o
presidente ter literalmente militarizado o Palácio do Planalto, além de
outros ministérios, como se precisasse de uma fortaleza para se
proteger. Na verdade, houve um enclausuramento no núcleo familiar e dos
assistentes mais próximos, de cunho preponderantemente ideológico, até
mesmo alguns militares passando a defender tais posições. Entendia-se no
início do atual governo que os militares teriam a função de moderação,
algo que agora não se está confirmando, na medida em que o incitamento
para as manifestações do dia 15 partiu de um ministro militar.
Felizmente, um ex-ministro igualmente militar qualificou tal chamado de
“irresponsabilidade”.
[Ao final, apresentamos alguns links com comentários que certamente ajudarão a decidir ir ou não ir à manifestação.]
A imagem das Forças Armadas e, em particular, do Exército terminou por
ser associada ao atual governo, segundo a percepção da opinião pública.
Esta não faz a distinção entre oficiais da reserva e da ativa, sobretudo
quando os primeiros têm tal proeminência. Ademais, dois dos ministros
militares do palácio estão ainda na ativa, embora um deles, segundo foi
noticiado, estaria para passar para a reserva.
Nesse sentido, pode-se dizer que o Exército fez uma aposta arriscada. Se
o atual governo der certo – o que não é hoje evidente –, ficará com os
louros. Se fracassar, ficará com toda a responsabilidade, perdendo o
imenso prestígio que conquistou no processo de redemocratização do País,
tornando-se um dos seus pilares. No atual contexto institucional, sábios seriam o presidente e o seu
grupo se cancelassem as manifestações do dia 15. Fariam um grande
serviço à Nação. Do contrário, o País seguirá na marcha da insensatez.
Denis Lerrer Rosenfield, professor de filosofia - O Estado de S. Paulo
SUGERIMOS LER:
Marcadores:
celeuma,
digital,
Exército,
grupo familiar,
institucional,
marcha da insensatez,
opinião pública,
vontade popular
sábado, 29 de fevereiro de 2020
Sucessão de equívocos - Merval Pereira
O Globo
Orçamento impositivo - Sucessão de equívocos
Toda essa desavença entre Executivo e Legislativo pelo orçamento da União surgiu de um raciocínio equivocado do ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Não me refiro ao palavrão que gerou a convocação da manifestação do “fod*-se”, mas à idéia de que se o Congresso quer mudar as regras do presidencialismo, que aprove o parlamentarismo.[A democracia direta não pode, nem deve, ser implantada no Brasil. Mas, mesmo assim, o recurso eventual a consulta popular, - via plebiscitos, referendos - não deve ser extirpado das alternativas de exercício eventual do Poder pelo Povo, de forma direta.
Certas peculiaridades da 'constituição cidadã', propositadamente 'engessada', tornam obrigatório que mudanças mais profundas sejam objeto de referendo.
Mas, o Brasil não pode se transformar em uma República plebiscitária.]
A separação dos poderes, criada na Constituição americana em 1789, é característica do presidencialismo. Existia na teoria, principalmente pela famosa obra de Montesquieu “O espírito das leis”, e de forma incipiente na Inglaterra. A primeira república constitucional do mundo moderno é considerada a dos Estados Unidos, com a base de que quem dá os rumos é o Congresso. No presidencialismo, um deputado, um senador, não tem chefe, muito menos poderia ser subordinado ao chefe de outro Poder, o Executivo. Por isso, para que um parlamentar americano seja ministro, precisa renunciar ao seu mandato, e não apenas licenciar-se, como acontece no Brasil.
O que não tem a ver com o presidencialismo é a democracia direta, baseada em plebiscitos ou referendos, e em convocações de manifestações para pressionar o Legislativo ou o Judiciário. Essa é a maneira usada pelos bolivarianos que tanto Bolsonaro combate. A disputa entre Executivo e Legislativo em torno do Orçamento tem origem nas colônias americanas da Inglaterra, que se rebelaram por quererem ter representantes presenciais no Parlamento em Londres, em vez de uma representação apenas virtual como queriam os ingleses. A frase “No taxation without representation” (Nenhuma taxação sem representação) tornou-se o símbolo de um movimento de autonomia das 13 colônias americanas que culminou, anos depois, em 1776 na fundação dos Estados Unidos.
No Brasil, o orçamento sempre foi uma peça de ficção dominada pelo Executivo, tanto que ele era considerado “autorizativo”, isto é, o Executivo poderia liberar as verbas que quisesse. Há quem considere que a aprovação do orçamento impositivo no que se refere às emendas dos deputados e senadores e das bancadas, como existe hoje, pode trazer um benefício: acabar o “é dando que se recebe” com relação às emendas parlamentares, provocando uma redefinição de forças no Congresso porque parlamentares deixariam de se alinhar automaticamente com o governo só para liberar suas emendas.
Este é o estranhamento do governo Bolsonaro, que pretende representar a “nova política”, mas se espanta quando o Congresso ganha autonomia de gastos. Um efeito colateral da demonização que Bolsonaro faz da política partidária. Os parlamentares assumiram o controle do Orçamento querendo ser independentes do Executivo. Se o governo tivesse uma base parlamentar sólida, não haveria problema, pois essa maioria controlaria o Orçamento de acordo com um programa de governo estabelecido em consonância com o presidente eleito.
Como estamos em ano eleitoral, essa disputa pelas verbas públicas se acirrou. Ontem, a Secretaria de Governo anunciou que somente liberará até março 30% das emendas impositivas, o que parece a deputados e senadores uma retaliação à posição majoritária de derrubar os vetos do presidente Bolsonaro, alargando o controle do Orçamento pelo Legislativo. Como o prazo máximo de liberação de verbas para obras antes das eleições municipais é julho, e o governo pode liberar as emendas até dezembro, temem os políticos que elas ficarão retidas pelo Executivo, sem poderem ser usadas a tempo de impactar as eleições.
Se o veto for derrubado na semana que vem, R$ 30,1 bilhões em emendas serão liberados pelos próprios parlamentares neste ano. O problema não é o volume de dinheiro à disposição do Congresso. Nos Estados Unidos, o orçamento é totalmente impositivo e controlado pelo Congresso, que pode alterar integralmente a proposta do Executivo. É claro que não acontece a toda hora, mesmo quando o presidente eleito não tem a maioria na Câmara, como é o caso hoje de Trump. Mas a Câmara tem poder para negar verba extra ao presidente, e nesse caso paralisa os serviços públicos federais.
A alternativa que a Câmara e o Senado no Brasil encontraram para sobreviver à campanha de demonização da negociação política, depois dos escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato, foi assumir o controle das reformas estruturais de que o país precisa, e, ao mesmo tempo, controlar o Orçamento para ter condições de atender às necessidades de eleitores em seus Estados e municípios. O que vai ficar agora sob o escrutínio da opinião pública é o que farão com essa dinheirama.
Merval Pereira, jornalista - O Globo
Marcadores:
ano eleitoral,
bolivarianos,
escrutínio,
Inglaterra,
ministro,
Montesquieu,
Operação Lava Jato,
opinião pública,
orçamento impositivo,
Sucessão de equívocos,
verbas
sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020
Credibilidade do Congresso - E a credibilidade? - Merval Pereira
O Globo
A crescente preponderância do Congresso
no debate político está provocando uma relação conflituosa com os demais
poderes. Ao mesmo tempo em que impõe sua pauta ao Executivo, ocupando
espaços vazios deixados pela inépcia do governo Bolsonaro, vai também
confrontando o Judiciário. Desta vez há dois casos de suspensão e cassação de mandatos decididos
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que não foram obedecidos pelo Legislativo.
Os deputados entenderam que afastar do mandato o deputado Wilson Santiago, como determinado pelo ministro do STF Celso de Mello, seria abrir caminho para qualquer juiz de primeira instância determinar a perda de mandato de parlamentares. No Senado, o presidente David Alcolumbre ainda discute se a senadora Selma Arruda perderá o mandato conforme determinação do TSE, e pretende ganhar tempo levando o caso à Mesa Diretora do Senado.
Enquanto isso, tanto Wilson Santiago quanto Selma Arruda continuam atuando no Congresso, recebendo seus salários e desdenhando das decisões judiciais. Em seu relatório, o deputado Marcelo Ramos, colocado como relator em substituição a Fábio Trad (PSD-MS) para dar parecer favorável à manutenção do mandato de Wilson Santiago, disse que o “afastamento de um deputado deve ocorrer, no próprio entendimento do Supremo, em casos excepcionais e singulares”. Mesmo com um assessor aparecendo num vídeo recebendo propina, os deputados alegam, com razão, que “prerrogativas parlamentares são essenciais em qualquer democracia”.
Esquecem, porém, que as prerrogativas só têm validade se vierem acompanhadas de credibilidade, o que atitudes corporativas como essas só fazem desgastar. Santiago foi um dos alvos da operação Pés de Barro da Polícia Federal, que investiga suspeitas de superfaturamento em obras no interior da Paraíba. O foco das apurações que envolvem Santiago são as obras da "Adutora Capivara", contratadas por R$ 24,8 milhões, em que teria havido distribuição de propinas no valor de R$ 1,2 milhão, segundo delação premiada sigilosa homologada pelo ministro Celso de Mello.
O caso da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, é mais grave. Quase dois meses depois de o Tribunal Superior Eleitoral ter cassado seu mandato devido a abuso do poder econômico e caixa dois, ela continua em atividade. O TSE estabelecera que a decisão deveria ser cumprida pelo Senado imediatamente, independentemente da apresentação de recursos pela senadora. A alegação do presidente do Senado Davi Alcolumbre é que seguirá o mesmo trâmite já adotado pelo Senado no caso do então senador João Capibaribe. Presidia o Senado o então senador Jose Sarney, que, assim como Alcolumbre hoje, deu todo apoio às manobras regimentais de Capiberibe, até quando não havia mais recurso.
Ministros do Supremo do Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello estranharam a relutância de Alcolumbre em cumprir a decisão do TSE, e o ministro Marco Aurélio Mello tocou no ponto essencial: “Claro que se imagina uma harmonia, e não um descompasso entre o que decide o Tribunal e o Senado”. Essa é a questão básica que está em causa hoje, a auto-blindagem dos parlamentares contra decisões judiciais, seja as descumprindo pura e simplesmente, seja aprovando medidas sob medida para evitar ações futuras.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deu respaldo à troca do relator e à decisão majoritária de não suspender o mandato do deputado Wilson Santiago, alega que a gravidade do caso exige que a Comissão de Ética se pronuncie. É uma maneira de ganhar tempo para acompanhar a maioria dos membros do parlamento, mas alertar que a decisão final tem que acatar a decisão do Supremo. Mais do que ninguém, Maia sabe que de nada adianta a Câmara recuperar seu protagonismo se perder a credibilidade diante da opinião pública que é, afinal, o que lhe dá respaldo para dar o rumo político do país.
Merval Pereira, colunista - O Globo
E a credibilidade da Câmara diante da opinião pública?
Os deputados entenderam que afastar do mandato o deputado Wilson Santiago, como determinado pelo ministro do STF Celso de Mello, seria abrir caminho para qualquer juiz de primeira instância determinar a perda de mandato de parlamentares. No Senado, o presidente David Alcolumbre ainda discute se a senadora Selma Arruda perderá o mandato conforme determinação do TSE, e pretende ganhar tempo levando o caso à Mesa Diretora do Senado.
Enquanto isso, tanto Wilson Santiago quanto Selma Arruda continuam atuando no Congresso, recebendo seus salários e desdenhando das decisões judiciais. Em seu relatório, o deputado Marcelo Ramos, colocado como relator em substituição a Fábio Trad (PSD-MS) para dar parecer favorável à manutenção do mandato de Wilson Santiago, disse que o “afastamento de um deputado deve ocorrer, no próprio entendimento do Supremo, em casos excepcionais e singulares”. Mesmo com um assessor aparecendo num vídeo recebendo propina, os deputados alegam, com razão, que “prerrogativas parlamentares são essenciais em qualquer democracia”.
Esquecem, porém, que as prerrogativas só têm validade se vierem acompanhadas de credibilidade, o que atitudes corporativas como essas só fazem desgastar. Santiago foi um dos alvos da operação Pés de Barro da Polícia Federal, que investiga suspeitas de superfaturamento em obras no interior da Paraíba. O foco das apurações que envolvem Santiago são as obras da "Adutora Capivara", contratadas por R$ 24,8 milhões, em que teria havido distribuição de propinas no valor de R$ 1,2 milhão, segundo delação premiada sigilosa homologada pelo ministro Celso de Mello.
O caso da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, é mais grave. Quase dois meses depois de o Tribunal Superior Eleitoral ter cassado seu mandato devido a abuso do poder econômico e caixa dois, ela continua em atividade. O TSE estabelecera que a decisão deveria ser cumprida pelo Senado imediatamente, independentemente da apresentação de recursos pela senadora. A alegação do presidente do Senado Davi Alcolumbre é que seguirá o mesmo trâmite já adotado pelo Senado no caso do então senador João Capibaribe. Presidia o Senado o então senador Jose Sarney, que, assim como Alcolumbre hoje, deu todo apoio às manobras regimentais de Capiberibe, até quando não havia mais recurso.
Ministros do Supremo do Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello estranharam a relutância de Alcolumbre em cumprir a decisão do TSE, e o ministro Marco Aurélio Mello tocou no ponto essencial: “Claro que se imagina uma harmonia, e não um descompasso entre o que decide o Tribunal e o Senado”. Essa é a questão básica que está em causa hoje, a auto-blindagem dos parlamentares contra decisões judiciais, seja as descumprindo pura e simplesmente, seja aprovando medidas sob medida para evitar ações futuras.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deu respaldo à troca do relator e à decisão majoritária de não suspender o mandato do deputado Wilson Santiago, alega que a gravidade do caso exige que a Comissão de Ética se pronuncie. É uma maneira de ganhar tempo para acompanhar a maioria dos membros do parlamento, mas alertar que a decisão final tem que acatar a decisão do Supremo. Mais do que ninguém, Maia sabe que de nada adianta a Câmara recuperar seu protagonismo se perder a credibilidade diante da opinião pública que é, afinal, o que lhe dá respaldo para dar o rumo político do país.
Merval Pereira, colunista - O Globo
Marcadores:
"AdutoTSE,
Credibilidade do Congresso,
deputado Wilson Santiago,
operação Pés de Barro,
opinião pública,
ra Capivara",
senador João Capibaribe,
TSE
segunda-feira, 6 de janeiro de 2020
O futuro do Supremo - O Estado de S. Paulo
Por Luiza Oliver
O Estado de Direito sentirá falta de ministros terrivelmente corajosos e garantistas
Quando o general Villas
Bôas, em abril de 2018, ameaçou uma intervenção do Exército caso o
Supremo Tribunal Federal (STF) concedesse determinado habeas corpus, o
ministro Celso de Mello repudiou veementemente as falas, qualificando-as
de “claramente infringentes do princípio da separação de Poderes” e
alertando: “Parecem prenunciar a retomada, de todo inadmissível, de
práticas estranhas (e lesivas) à ortodoxia constitucional”. [o general Villas Bôas não ameaçou ninguém, apenas lembrou, aos que estavam propensos a privilegiar um garantismo sem sentido, a vontade do povo brasileiro;
Felizmente seu lembrete foi ouvido pelos próprios pares do decano do STF, que limitou a resmungar sobre uma suposta, e improvável, falta de receptividade ao oportuno recado do então Comandante em Chefe do Exército Brasileiro.]
Também quando Eduardo Bolsonaro ameaçou fechar o Supremo, o decano da Corte veio a público para dizer que “essa declaração, além de inconsequente e golpista, (...) só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição da República”. Já quando o mesmo Eduardo Bolsonaro ameaçou com a edição de um “novo AI-5”, o ministro Marco Aurélio Mello alertou para os “tempos mais do que estranhos quando há essa tentativa de esgarçamento da democracia. Ventos que querem levar os ares democráticos”. [todas as manifestações acima destacadas das supremas excelência apenas seguem o lugar comum de: tudo que é dito pelo presidente Bolsonaro, por seus filhos e por ministros do atual Governo sempre procura acusar a manifestação de ilegal, de golpista, etc, etc.]
Mais recentemente, quando o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tuitou um vídeo comparando o STF a uma hiena, o ministro Celso de Mello, em carta pública, lembrou que “nem mesmo o presidente da República está acima da autoridade da Constituição e das leis da República”, por não ser “um monarca presidencial (...) com poderes absolutos e ilimitados”. Ambos os ministros se aposentam nos próximos anos. A saída de juízes de tamanha envergadura, coragem e técnica seria lamentosa em qualquer cenário. Mas no contexto atual é alarmante.
Caminhamos a passos largos para o negligenciar de garantias básicas pelo Poder Judiciário. Princípios consagrados há décadas vêm, repetida e crescentemente, sendo desrespeitados e flexibilizados em prol de um discurso punitivista midiático. A Operação Lava Jato, em que pesem os inegáveis avanços que possibilitou, abriu as portas para toda sorte de abusos. Criou-se uma “casta” de promotores, procuradores e juízes que, travestindo-se da figura de heróis, vão na contramão do que o ministro Marco Aurélio lembra há tempos: no processo penal os fins jamais justificam os meios.[uma 'casta' de promotores, procuradores, juízes, ministros, até que é aceitável e podemos dizer que seria bons frutos da Operação Lava Jato;
o que entristece, é ver que o Supremo criou também uma 'casta', a dos criminosos intocáveis, que mesmo condenados até em 3ª instância continuam em liberdade.]
Garantir que a lei seja cumprida e que os direitos individuais sejam respeitados virou ofensa, pecha de mau juiz ou de conivente com a corrupção. O Judiciário teme a opinião pública e tem se tornado refém dela. Ao longo dessa perigosa escalada de autoritarismo, o Supremo tem tido o papel fundamental de frear os excessos do Estado. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello são expoentes desse movimento e vozes firmes na manutenção do Estado de Direito. Ainda em 2013, no rumoroso caso do mensalão, o decano da Corte declarava: “Em 45 anos de atuação na área jurídica, como membro do Ministério Público e juiz do STF, nunca presenciei um comportamento tão ostensivo dos meios de comunicação social buscando, na verdade, pressionar e virtualmente subjugar a consciência de um juiz”.
De lá pra cá a coisa só piorou. O Supremo tem enfrentado a fúria punitivista das ruas, é alvo de protestos e de passeatas que, sob o slogan “vem para a rua salvar a Lava Jato”, bradam contra a Corte, contra os ministros que julgam de maneira diversa de parte da opinião pública, ainda que na estrita aplicação da lei e da Constituição. [será que os integrantes dos protestos e passeatas não são apenas pessoas de bem, brasileiros, trabalhadores, contribuintes e que estão apenas cansados de tanta impunidade, de ver que os criminosos endinheirados sempre se dão bem?
será que eles não são apenas brasileiros que se sentem a vítima do 'discurso das nulidades', de Rui Barbosa?]
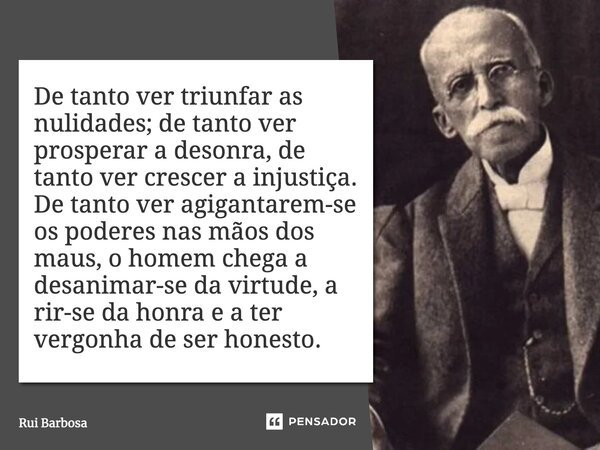
O STF e seus membros se tornaram, assim, alguns dos principais alvos do “ódio cego e visceral”, da “irracionalidade do comportamento humano e do fundamentalismo político”, como ressaltou Celso de Mello ao responder a manifestação de uma advogada que, por discordar de uma decisão do pleno do Supremo, pedia: “Estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF”. Parte da população busca, no grito e pela via do Judiciário, alterar leis democraticamente votadas por representantes do povo inteiro. Num cenário fervente como esse, mais do que nunca é necessário ter o que o ministro Gilmar Mendes qualificou como a mais importante característica de um magistrado: coragem. Conforme lembrou quando ainda exercia a presidência da Corte (2008), a “jurisdição constitucional é um modelo antimajoritário. Quem quiser exercer essa função tem que ter coragem de arrostar aquilo que se chama de opinião pública em um dado momento”.
Foram muitos os exemplos de coragem dados por ambos os ministros ao longo de toda a sua judicatura, mais especialmente nos rumorosos feitos julgados nos últimos anos pela Suprema Corte, sob o escrutínio fervoroso da mídia e da opinião pública, que, ao vivo e em cores, acompanham os julgamentos pela TV Justiça. Basta lembrar seus votos nos casos relativos às conduções coercitivas, à competência da Justiça Eleitoral, à prisão em segundo grau, ao sigilo dos dados do Coaf e à necessidade de respeitar a ordem das alegações finais. Em que pese a enorme pressão popular por decisões contrárias ao texto da lei e da Constituição, os votos de ambos pautaram-se pela tecnicidade e pela serenidade. Tiveram a coragem de julgar de acordo com a lei. Coisa rara atualmente.
Como disse o ministro Celso de Mello em seu voto proferido no julgamento relacionado às prisões em segunda instância, o STF constitui, “por excelência, um espaço de proteção e defesa das liberdades fundamentais” e seus julgamentos, “para que sejam imparciais, isentos e independentes, não podem expor-se a pressões externas, como aquelas resultantes do clamor popular e da pressão das multidões, sob pena de completa subversão do regime constitucional dos direitos e garantias individuais e de aniquilação de inestimáveis prerrogativas essenciais que a ordem jurídica assegura a qualquer réu mediante instauração, em juízo, do devido processo penal”. A importância institucional de ambos os ministros vai muito além dos votos que proferem. O Estado de Direito sentirá falta de ministros terrivelmente corajosos e garantistas.
Luiza Oliver, advogada criminalista - O Estado de S. Paulo
Felizmente seu lembrete foi ouvido pelos próprios pares do decano do STF, que limitou a resmungar sobre uma suposta, e improvável, falta de receptividade ao oportuno recado do então Comandante em Chefe do Exército Brasileiro.]
Também quando Eduardo Bolsonaro ameaçou fechar o Supremo, o decano da Corte veio a público para dizer que “essa declaração, além de inconsequente e golpista, (...) só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição da República”. Já quando o mesmo Eduardo Bolsonaro ameaçou com a edição de um “novo AI-5”, o ministro Marco Aurélio Mello alertou para os “tempos mais do que estranhos quando há essa tentativa de esgarçamento da democracia. Ventos que querem levar os ares democráticos”. [todas as manifestações acima destacadas das supremas excelência apenas seguem o lugar comum de: tudo que é dito pelo presidente Bolsonaro, por seus filhos e por ministros do atual Governo sempre procura acusar a manifestação de ilegal, de golpista, etc, etc.]
Mais recentemente, quando o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tuitou um vídeo comparando o STF a uma hiena, o ministro Celso de Mello, em carta pública, lembrou que “nem mesmo o presidente da República está acima da autoridade da Constituição e das leis da República”, por não ser “um monarca presidencial (...) com poderes absolutos e ilimitados”. Ambos os ministros se aposentam nos próximos anos. A saída de juízes de tamanha envergadura, coragem e técnica seria lamentosa em qualquer cenário. Mas no contexto atual é alarmante.
Caminhamos a passos largos para o negligenciar de garantias básicas pelo Poder Judiciário. Princípios consagrados há décadas vêm, repetida e crescentemente, sendo desrespeitados e flexibilizados em prol de um discurso punitivista midiático. A Operação Lava Jato, em que pesem os inegáveis avanços que possibilitou, abriu as portas para toda sorte de abusos. Criou-se uma “casta” de promotores, procuradores e juízes que, travestindo-se da figura de heróis, vão na contramão do que o ministro Marco Aurélio lembra há tempos: no processo penal os fins jamais justificam os meios.[uma 'casta' de promotores, procuradores, juízes, ministros, até que é aceitável e podemos dizer que seria bons frutos da Operação Lava Jato;
o que entristece, é ver que o Supremo criou também uma 'casta', a dos criminosos intocáveis, que mesmo condenados até em 3ª instância continuam em liberdade.]
Garantir que a lei seja cumprida e que os direitos individuais sejam respeitados virou ofensa, pecha de mau juiz ou de conivente com a corrupção. O Judiciário teme a opinião pública e tem se tornado refém dela. Ao longo dessa perigosa escalada de autoritarismo, o Supremo tem tido o papel fundamental de frear os excessos do Estado. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello são expoentes desse movimento e vozes firmes na manutenção do Estado de Direito. Ainda em 2013, no rumoroso caso do mensalão, o decano da Corte declarava: “Em 45 anos de atuação na área jurídica, como membro do Ministério Público e juiz do STF, nunca presenciei um comportamento tão ostensivo dos meios de comunicação social buscando, na verdade, pressionar e virtualmente subjugar a consciência de um juiz”.
De lá pra cá a coisa só piorou. O Supremo tem enfrentado a fúria punitivista das ruas, é alvo de protestos e de passeatas que, sob o slogan “vem para a rua salvar a Lava Jato”, bradam contra a Corte, contra os ministros que julgam de maneira diversa de parte da opinião pública, ainda que na estrita aplicação da lei e da Constituição. [será que os integrantes dos protestos e passeatas não são apenas pessoas de bem, brasileiros, trabalhadores, contribuintes e que estão apenas cansados de tanta impunidade, de ver que os criminosos endinheirados sempre se dão bem?
será que eles não são apenas brasileiros que se sentem a vítima do 'discurso das nulidades', de Rui Barbosa?]
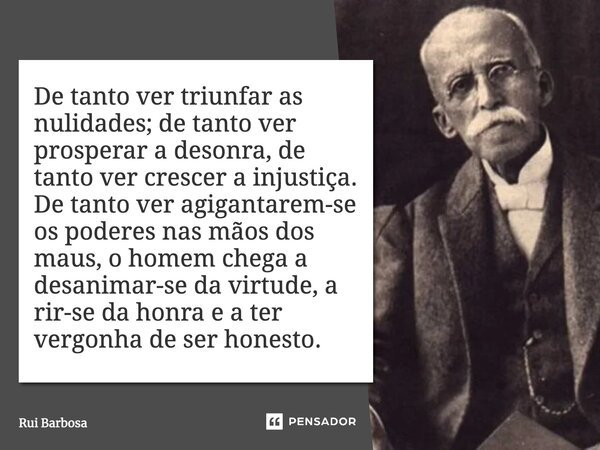
O STF e seus membros se tornaram, assim, alguns dos principais alvos do “ódio cego e visceral”, da “irracionalidade do comportamento humano e do fundamentalismo político”, como ressaltou Celso de Mello ao responder a manifestação de uma advogada que, por discordar de uma decisão do pleno do Supremo, pedia: “Estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF”. Parte da população busca, no grito e pela via do Judiciário, alterar leis democraticamente votadas por representantes do povo inteiro. Num cenário fervente como esse, mais do que nunca é necessário ter o que o ministro Gilmar Mendes qualificou como a mais importante característica de um magistrado: coragem. Conforme lembrou quando ainda exercia a presidência da Corte (2008), a “jurisdição constitucional é um modelo antimajoritário. Quem quiser exercer essa função tem que ter coragem de arrostar aquilo que se chama de opinião pública em um dado momento”.
Foram muitos os exemplos de coragem dados por ambos os ministros ao longo de toda a sua judicatura, mais especialmente nos rumorosos feitos julgados nos últimos anos pela Suprema Corte, sob o escrutínio fervoroso da mídia e da opinião pública, que, ao vivo e em cores, acompanham os julgamentos pela TV Justiça. Basta lembrar seus votos nos casos relativos às conduções coercitivas, à competência da Justiça Eleitoral, à prisão em segundo grau, ao sigilo dos dados do Coaf e à necessidade de respeitar a ordem das alegações finais. Em que pese a enorme pressão popular por decisões contrárias ao texto da lei e da Constituição, os votos de ambos pautaram-se pela tecnicidade e pela serenidade. Tiveram a coragem de julgar de acordo com a lei. Coisa rara atualmente.
Como disse o ministro Celso de Mello em seu voto proferido no julgamento relacionado às prisões em segunda instância, o STF constitui, “por excelência, um espaço de proteção e defesa das liberdades fundamentais” e seus julgamentos, “para que sejam imparciais, isentos e independentes, não podem expor-se a pressões externas, como aquelas resultantes do clamor popular e da pressão das multidões, sob pena de completa subversão do regime constitucional dos direitos e garantias individuais e de aniquilação de inestimáveis prerrogativas essenciais que a ordem jurídica assegura a qualquer réu mediante instauração, em juízo, do devido processo penal”. A importância institucional de ambos os ministros vai muito além dos votos que proferem. O Estado de Direito sentirá falta de ministros terrivelmente corajosos e garantistas.
Luiza Oliver, advogada criminalista - O Estado de S. Paulo
Marcadores:
discurso das nulidades,
O futuro do Supremo,
opinião pública,
Rui Barbosa,
TV Justiça
sábado, 7 de dezembro de 2019
Com jeito vai - Dora Kramer
VEJA
A autorização de prisão depois da segunda instância é um rio que corre para o mar — não tem volta
Por Dora Kramer
A voz, ou melhor, a grita corrente, denuncia como manobra protelatória o acordo ainda não escrito entre os presidentes da Câmara e do Senado em prol da concentração de esforços na proposta de emenda constitucional cujo teor, em miúdos, dá à segunda instância o caráter de trânsito em julgado, podendo o réu recorrer de aspectos formais do processo, mas já sem direito pleno à liberdade dado o esgotamento do exame das razões de autoria e materialidade do crime. O deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre estariam, por essa versão, mancomunados com a ala dita garantista do Supremo Tribunal Federal para fazer a proposta morrer de inanição. Isso porque a ideia defendida por senadores de alterar a legislação ordinária mediante mudanças no Código de Processo Penal seria mais fácil e rapidamente aprovada. Uma emenda constitucional precisa ser votada em dois turnos nas duas Casas e ainda contar com quórum qualificado de 308 deputados e 49 senadores para ser aprovada. [o objetivo do 'primeiro-ministro' junto com o do presidente do Senado é cada um quer um caminho e assim não se sai do lugar;
o 'primeiro-ministro assume o ônus de defender uma proposta - emenda constitucional - que atrasa mais ainda o que já não anda.
Oque vale é deixar os bandidos condenados soltos, até que ...]
Ocorre que o mais fácil e rápido não necessariamente é o mais seguro. Um projeto de lei aprovado a toque de caixa poderia de novo esbarrar na cláusula pétrea sobre a presunção de inocência e ser derrubado no STF. Não poderia acontecer o mesmo com a emenda constitucional? Poderia, mas, a depender do encaminhamento da coisa, fica mais difícil. [o projeto de lei tem a seu favor que torna bem mais dificil para o Supremo julgar inconstitucional a alteração no Código Penal - além da riqueza de argumentos pró projeto de lei, não pode ser desprezado o pesado ônus do Supremo ao considerar inconstitucional as mudanças no Código Penal, pois estará ratificando o entendimento pró bandido em nova decisão, corroborando a recente e até hoje não digerida - enquanto a emenda constitucional, além da enrolação fácil de qualquer um dos presidentes do Poder Legislativo executar, se declarada incosntitucional e começar tudo de novo, anda mais lento que o projeto de lei.]
A começar pela consistência de um procedimento resultante de entendimento entre Câmara e Senado. Por mais que admitamos a hipótese de os presidentes das Casas não morrerem de amores pelo assunto, como de resto deixaram bem claro quando o presidente do Supremo jogou a bola para o Congresso, há o peso do conjunto de deputados e senadores, cujos humores são tocados pela opinião pública em casos rumorosos como esse.
E, aqui, chegamos ao ponto inicial da nossa conversa sobre as semelhanças entre o ambiente que levou à aprovação da Lei da Ficha Limpa e a atmosfera em torno da prisão depois do julgamento em segunda instância. Vejam o senhor e a senhora que Maia e Alcolumbre não puderam deixar o assunto de lado. Foram obrigados a tocar o barco. Da mesma forma como os grandes partidos (PT, MDB e PSDB) da época, em 2009 eles se viram forçados a abandonar a proposital indiferença à Ficha Limpa.
A proposta de iniciativa popular com mais de 1,6 milhão de assinaturas (o triplo do exigido para a criação de partidos) simplesmente dormia em comissão na Câmara sob a vista grossa de suas excelências de governo e oposição. A maioria não queria saber do assunto, e tudo sugeria que não iria adiante até que entrou em cena a opinião do público, incensada por uma ampla campanha de entidades civis, já sob o clima do escândalo do mensalão, cuja denúncia da Procuradoria-Geral da República havia sido aceita em 2007 pelo Supremo (o julgamento seria concluído cinco anos depois).
O apoio popular à prisão na segunda instância é primo-irmão da adesão à Lei da Ficha Limpa
Diante da pressão e com eleições marcadas para o ano seguinte, os
parlamentares não tiveram escolha a não ser aderir e aprovar a
inelegibilidade de candidatos condenados em segunda instância. Em maio
de 2010 a lei foi aprovada na Câmara e no Senado. Tramitação rápida, mas
muito mais simples do que a discutida agora por se tratar de questão
eleitoral. No entanto, os principais pontos de semelhança — pressão
popular, crescente apoio no Congresso e proximidade de eleições —
sustentam a impressão de que a autorização de prisão depois da segunda
instância é um rio que corre para o mar, não tem volta.Isso, bem entendido, se houver mobilização da sociedade, debate aprofundado em audiências públicas no Parlamento, boa costura política e consistente fundamento jurídico, a fim de que não se agrida a cláusula pétrea da presunção de inocência e todo o esforço desande sob o crivo do STF, que obviamente será chamado a dar a última palavra quando, e se, a proposta passar no Congresso. A pressa, nesse caso, pode funcionar como nefasta amiga da imperfeição. Também não seria aceitável a morosidade excessiva, típica das intenções protelatórias, porque o clamor está posto e não deixa margem a dúvida. Cabe às instituições encontrar o melhor jeito de adequar a demanda aos rigores da legalidade. [especialmente quando a instituição que vai decidir sobre a legalidade, não consegue esconder o interesse da maioria dos que a integram, em deixar tudo como está.]

Marcadores:
cláusula pétrea,
Com jeito vai,
Lei da Ficha Limpa,
opinião pública,
presunção de inocência
terça-feira, 6 de agosto de 2019
Volta aos trilhos - Nas entrelinhas
“A retomada da votação da Previdência é uma volta aos
trilhos da boa política, pois muda o foco dos “factoides” ideológicos
para o que é realmente mais importante”
A Câmara dos Deputados retoma hoje o processo de discussão da reforma da Previdência, que deve ser aprovada ainda nesta semana, em segunda votação, seguindo então para o Senado. O clima já não é o mesmo do primeiro semestre. Houve muito diversionismo do Palácio do Planalto duramente o recesso e nenhum empenho para mobilizar a própria base na retomada dos trabalhos legislativos. Perdeu-se tempo, por falta de quórum, na semana passada e ontem, quando havia menos de 51 deputados na Câmara. Como ainda há um interstício de duas sessões para a votação, o que poderia começar a ser decidido hoje, na melhor das hipóteses, só se iniciará na noite de amanhã.
De qualquer forma, a retomada da votação da Previdência é uma volta aos trilhos da boa política, pois muda o foco dos “factoides” ideológicos para o que é realmente mais importante. A inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência deve voltar à pauta no Senado, mas como nova emenda constitucional, a chamada PEC paralela, para não atrasar o que já foi aprovado pela Câmara. Há maioria no Senado para isso, porém, persiste a dificuldade na Câmara. A maioria dos deputados não quer arcar com o ônus da reforma junto aos servidores públicos estaduais e municipais; avalia que isso é problema dos governadores e prefeitos, deputados estaduais e vereadores.
Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afinaram a viola com o ministro da Economia, Paulo Guedes, não só sobre a tramitação da reforma da Previdência, mas também em relação ao passo seguinte: a reforma tributária. Os três almoçaram na residência oficial de Alcolumbre. Dois projetos diferentes já estão tramitando no Congresso Nacional: um na Câmara e outro, no Senado. Guedes prepara uma terceira proposta. Os secretários estaduais de Fazenda também deram um passo adiante: na semana passada, aprovaram sugestões ao projeto da Câmara, de autoria de Bernardo Appy.
O tema que mais interessa aos estados é a composição do comitê gestor para o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), a ser criado pela reforma. Ainda nos trilhos das reformas, hoje será instalada por Rodrigo Maia a comissão especial da Câmara que discutirá o novo marco regulatório das parcerias público-privadas, concessões públicas e fundos de investimento em infraestrutura, cujo relator será o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Depois da Previdência e da reforma tributária, será a agenda mais importante para a economia, principalmente porque uma das grandes queixas dos investidores é a falta de segurança jurídica para os negócios com o Estado.
Governadores
O presidente Jair Bolsonaro foi ontem a Sobradinho, na Bahia, inaugurar uma usina de energia solar flutuante no Rio São Francisco e voltou a falar sobre suas divergências com os governadores do Nordeste. Pela segunda vez, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), evitou se encontrar com Bolsonaro, que negou discriminar o Nordeste, mas continua atirando: “Não estou aqui com colegas nordestinos para fazer média. Não existe essa história de preconceito. Agora, eu tenho preconceito com governador ladrão que não faz nada para o seu estado”, disse.
O contencioso com os governadores nordestinos é maior com o governador baiano, de quem Bolsonaro voltou a se queixar diretamente: “O meu relacionamento é com o povo do Nordeste. Ninguém proibiu o governador de estar aqui. Da vez passada, quando estive em Vitória da Conquista, ele determinou que a Polícia Militar não participasse”, justificou. Bolsonaro perdeu a eleição para o petista Fernando Haddad nos estados do Nordeste, por isso mobiliza os setores que o apoiam de olho nas próximas eleições municipais.
O conflito se instalou quando uma conversa de Bolsonaro com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi captada pelo áudio de gravação da TV Brasil, antes de uma solenidade oficial, e acabou viralizando nas redes, o que provocou forte reação dos governadores nordestinos. Num comentário sobre eles, Bolsonaro chamou-os de “paraíbas” e disse que um deles, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), não receberia nenhuma verba federal. Diante da reação dos dois governadores e seus colegas da região, desde então, o presidente da República tenta minimizar o estrago político que a declaração causou junto à opinião pública.
O problema é que os números corroboram as queixas dos governadores. Em 2019, até julho, a Caixa Econômica Federal (CEF), que gerencia os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), autorizou novos empréstimos no valor de R$ 4 bilhões para estados e municípios de todo o país. Para o Nordeste, porém, foram fechadas menos de 10 operações, que totalizavam, naquela data, R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total.
Nas Entrelinhas - Luiz Carlos Azedo - CB
A Câmara dos Deputados retoma hoje o processo de discussão da reforma da Previdência, que deve ser aprovada ainda nesta semana, em segunda votação, seguindo então para o Senado. O clima já não é o mesmo do primeiro semestre. Houve muito diversionismo do Palácio do Planalto duramente o recesso e nenhum empenho para mobilizar a própria base na retomada dos trabalhos legislativos. Perdeu-se tempo, por falta de quórum, na semana passada e ontem, quando havia menos de 51 deputados na Câmara. Como ainda há um interstício de duas sessões para a votação, o que poderia começar a ser decidido hoje, na melhor das hipóteses, só se iniciará na noite de amanhã.
De qualquer forma, a retomada da votação da Previdência é uma volta aos trilhos da boa política, pois muda o foco dos “factoides” ideológicos para o que é realmente mais importante. A inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência deve voltar à pauta no Senado, mas como nova emenda constitucional, a chamada PEC paralela, para não atrasar o que já foi aprovado pela Câmara. Há maioria no Senado para isso, porém, persiste a dificuldade na Câmara. A maioria dos deputados não quer arcar com o ônus da reforma junto aos servidores públicos estaduais e municipais; avalia que isso é problema dos governadores e prefeitos, deputados estaduais e vereadores.
Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afinaram a viola com o ministro da Economia, Paulo Guedes, não só sobre a tramitação da reforma da Previdência, mas também em relação ao passo seguinte: a reforma tributária. Os três almoçaram na residência oficial de Alcolumbre. Dois projetos diferentes já estão tramitando no Congresso Nacional: um na Câmara e outro, no Senado. Guedes prepara uma terceira proposta. Os secretários estaduais de Fazenda também deram um passo adiante: na semana passada, aprovaram sugestões ao projeto da Câmara, de autoria de Bernardo Appy.
O tema que mais interessa aos estados é a composição do comitê gestor para o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), a ser criado pela reforma. Ainda nos trilhos das reformas, hoje será instalada por Rodrigo Maia a comissão especial da Câmara que discutirá o novo marco regulatório das parcerias público-privadas, concessões públicas e fundos de investimento em infraestrutura, cujo relator será o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Depois da Previdência e da reforma tributária, será a agenda mais importante para a economia, principalmente porque uma das grandes queixas dos investidores é a falta de segurança jurídica para os negócios com o Estado.
Governadores
O presidente Jair Bolsonaro foi ontem a Sobradinho, na Bahia, inaugurar uma usina de energia solar flutuante no Rio São Francisco e voltou a falar sobre suas divergências com os governadores do Nordeste. Pela segunda vez, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), evitou se encontrar com Bolsonaro, que negou discriminar o Nordeste, mas continua atirando: “Não estou aqui com colegas nordestinos para fazer média. Não existe essa história de preconceito. Agora, eu tenho preconceito com governador ladrão que não faz nada para o seu estado”, disse.
O contencioso com os governadores nordestinos é maior com o governador baiano, de quem Bolsonaro voltou a se queixar diretamente: “O meu relacionamento é com o povo do Nordeste. Ninguém proibiu o governador de estar aqui. Da vez passada, quando estive em Vitória da Conquista, ele determinou que a Polícia Militar não participasse”, justificou. Bolsonaro perdeu a eleição para o petista Fernando Haddad nos estados do Nordeste, por isso mobiliza os setores que o apoiam de olho nas próximas eleições municipais.
O conflito se instalou quando uma conversa de Bolsonaro com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi captada pelo áudio de gravação da TV Brasil, antes de uma solenidade oficial, e acabou viralizando nas redes, o que provocou forte reação dos governadores nordestinos. Num comentário sobre eles, Bolsonaro chamou-os de “paraíbas” e disse que um deles, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), não receberia nenhuma verba federal. Diante da reação dos dois governadores e seus colegas da região, desde então, o presidente da República tenta minimizar o estrago político que a declaração causou junto à opinião pública.
O problema é que os números corroboram as queixas dos governadores. Em 2019, até julho, a Caixa Econômica Federal (CEF), que gerencia os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), autorizou novos empréstimos no valor de R$ 4 bilhões para estados e municípios de todo o país. Para o Nordeste, porém, foram fechadas menos de 10 operações, que totalizavam, naquela data, R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total.
Nas Entrelinhas - Luiz Carlos Azedo - CB
Marcadores:
factoides,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
marco regulatório,
opinião pública,
reforma da previdência,
Volta aos trilhos
sábado, 13 de julho de 2019
Congresso empurra para STF decisão sobre prisão em segunda instância
Para escapar de desgaste com opinião pública, parlamentares retiraram tema sensível de pacote anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro
As prisões de condenados por tribunais de segunda instância é o novo pano de fundo para a tensão entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Tanto entre os parlamentares, como na Corte há interesse em mudar a regra atual, que permite o início do cumprimento da pena de forma antecipada. Mas os dois vértices da Praça dos Três Poderes evitam tomar a decisão para evitar desgaste com a opinião pública. [o Congresso por incrível possa parecer age de forma correta;o Supremo apesar de a instância máxima do Poder Judiciário, ser a Corte que pode errar por último (segundo Rui Barbosa) não tem o direito de legislar só sobre o que lhe convém.
- Vejamos o caso da homofobia: criminalizar tal conduta rende pontos para a opinião pública e diante disso Supremo decidiu legislar, (e lei está valendo) mesmo tendo sido notificado pelo Senado Federal, com antecedência, da existência naquela Casa de dois processos sobre o assunto em tramitação - o que elide qualquer fundamento para acusar o Poder Legislativo de omissão;
- Agora o caso da prisão em segunda instância: o Supremo não tem interesse em manter preso, condenados com confirmação da sentença em segunda instância. Pelo menos como regra geral, alcançando todos condenados.
Só que inexiste espaço para abrir exceções e proibir a prisão em segunda instância deixaria a Corte Suprema em má posição perante a opinião pública - curioso é até fácil de entender a preocupação do Congresso - uma casa política - com a opinião pública, mas o STF, a INSTÂNCIA MÁXIMA do Poder Judiciário não pode,nem deve, se preocupar com a opinião pública e sim o respeito às Constituição e às leis.]
Na terça-feira, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, retirou do projeto o trecho que transformaria em lei as prisões em segunda instância. Esse movimento tira o foco da discussão do Congresso e empurra para o STF. O presidente do tribunal, Dias Toffoli, vinha evitando o assunto, mas o jogo virou. Na semana passada, declarou que os processos que tratam das prisões antecipadas não estão na pauta do plenário do segundo semestre, mas ainda podem ser incluídos. A tendência na Corte é dar aos condenados o direito de recorrer em liberdade por mais tempo, até que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirme a punição.
O relator dos processos, ministro Marco Aurélio Mello, acha natural que o STF decida, e não o Congresso. Há meses ele pede para Toffoli incluir o julgamento no calendário. "O lastro da matéria é constitucional, e não legal. No segundo semestre enfrentaremos, tenho fé, essa controvérsia", disse Marco Aurélio à coluna. O senador Marcos Rogério (DEM-RO), ligado a Moro, resumiu bem o quadro atual: "Acho que nesse momento ninguém quer colocar a mão nessa cumbuca. O Supremo e o Congresso sabem qual é o sentimento da sociedade sobre a prisão em segunda instância e, em momento de maior tensão, a cautela é o melhor caminho".
A decisão do grupo de trabalho da Câmara não foi surpresa. Moro já esperava que isso acontecesse, por causa do cenário político em torno da discussão. Ainda assim, a retirada de um dos principais pontos do pacote anticrime é contabilizada como uma derrota para o ministro da Justiça, que está sob os holofotes desde que o site The Intercept Brasil passou a divulgar supostos diálogos entre ele e o procurador da República Deltan Dallagnol. As mensagens noticiadas revelam que os dois teriam combinado a condução do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que resultou em condenação. Ironicamente, eventual mudança da regra da segunda instância beneficiaria Lula, que foi preso depois de ter a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) .
Para retirar a segunda instância do pacote anticrime, o discurso dos parlamentares foi de que a proposta mudaria a Constituição Federal — portanto, deveria ser discutido em uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC). Por trás do discurso, está a vontade de mudar a regra da segunda instância. Mas uma vontade ainda maior de empurrar para o Judiciário o desgaste que essa decisão acarretaria.
Revista Época - por Carolina Brígido
Marcadores:
Congresso empurra para STF,
Constituição Federal,
opinião pública,
pacote anticrime,
Proposta de Emenda Constitucional - PEC,
segunda instância
quinta-feira, 27 de junho de 2019
Em política, três anos são uma eternidade. Ainda mais num governo imprevisível como este.
Dormindo com o inimigo
Os potenciais candidatos já se mexem. E, pior para Bolsonaro, são todos do espectro político de centro
O presidente Bolsonaro é especialista em dar tiro no próprio pé, a
começar pela introdução no debate, sem razão explícita, de palavras
perigosas politicamente, como impeachment, ou delicadas, como reeleição,
quando garantira na campanha que mandaria um projeto para o Congresso
extinguindo essa possibilidade. [Bolsonaro declarou na campanha que se fosse apresentado um projeto acabando com a reeleição, ele apoiaria.] É verdade que os dois temas corriam à boca pequena nas conversas de
bastidores dos parlamentares, e mesmo na opinião pública. Bolsonaro pode
ter usado uma, reeleição, para neutralizar a outra, impeachment. Mesma
tática de Trump.
Mas o fato é que o presidente se isola cada vez mais ao decidir montar
em torno de si uma equipe de assessores que valem pela lealdade
presumida. Dá a impressão de que se sente dormindo com o inimigo, no
sentido figurado hétero, é claro. Tirou um general de quem era amigo há 40 anos, Santos Cruz, para colocar
outro, Luiz Eduardo Ramos, quatro estrelas da ativa e amigo do
presidente também há muito tempo. Tirou o general Floriano Peixoto para colocar em seu lugar o advogado e
major da PM da reserva Jorge Antonio de Oliveira Francisco, amigo de
seus filhos desde a infância, cujo pai foi chefe de gabinete de
Bolsonaro na Câmara. “Um garoto de ouro”, conforme o presidente o
definiu na posse.
No campo parlamentar, as dificuldades continuam grandes, mesmo que a
reforma da Previdência tenha tudo para ser aprovada. Mas está sendo
negociada dentro do Parlamento, sem que a equipe econômica participe, e
Paulo Guedes tenha protestado contra os grandes lobbies do serviço
público, que teriam tomado conta dos deputados. E vem mais por aí, com
uma provável mudança da tabela de transição. O presidente Bolsonaro ganhou a batalha das nomeações públicas,
terminando com o toma lá dá cá e criando o chamado “banco de talentos”.
São nomes técnicos indicados por políticos, o que é uma ideia inovadora
e, se fosse implementada, seria um avanço no funcionalismo público.
Mas até mesmo esse sistema está emperrado, pela desconfiança que o
Palácio do Planalto tem das indicações políticas. Desconfiança, aliás,
retribuída. As várias decisões tomadas pela Câmara para limitar os
poderes presidenciais, a ponto de Bolsonaro ter dito que querem que seja
uma “rainha da Inglaterra”, são retaliações que, pelo ambiente
instaurado no Congresso, continuarão. As reformas econômicas estruturais serão aprovadas, mas dentro do que já
está sendo chamado de calendário Maia. A ideia é transmitir imagem
positiva do Congresso, afastada da do presidente.
Assim como Bolsonaro abriu prematuramente a discussão sobre reeleição,
os potenciais candidatos já se mexem. E, pior para Bolsonaro, são todos
do espectro político de centro, e começam a se distanciar dele. O governador de São Paulo, João Doria, é um deles, e abriu debate contra
o apoio de Bolsonaro ao governo do Rio para receber a prova de Fórmula
1. O presidente ironizou o empenho de Doria: “Dizem que quer ser
presidente. Se for isso, não tem problema para ele, que tem que pensar
no país. Se for candidato à reeleição ao governo, aí pode ter problemas
lá no estado dele”. Outro candidato potencial é o próprio presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, que vem tendo destaque nacional com sua atuação no comando da
reforma da Previdência. [se Maia, em 2022, candidato a presidente conseguir multiplicar poe 1.000 os seus 73.000 votos obtidos em 2018, tem chance de ser eleito.]
O terceiro é o ministro da Justiça, Sergio Moro, o ministro mais popular
do governo. No dia 30 teremos uma boa ideia do tamanho dessa
popularidade nas manifestações a favor da Lava-Jato e dele próprio,
acossado pelos diálogos hackeados. Moro já disse que não seria candidato
se Bolsonaro concorrer, mas em política é bom nunca dizer nunca. [Moro pode ser um excelente candidato a vice de Bolsonaro em 2022 e nas eleições seguintes assumir a cabeça da chapa.]
Há até uma chapa Moro e Rodrigo Maia sendo cogitada à boca pequena. Ou
vice-versa, assim como João Doria também gostaria de ter Moro como
vice-presidente. O que parece que não faltará é opção de centro para o
eleitor, o que pode fazer Bolsonaro ficar limitado ao eleitorado de
extrema direita que, por si só, não o elegeria. Mas, em política, três anos são uma eternidade. Ainda mais num governo imprevisível como este.
Marcadores:
“banco de talentos”,
“rainha da Inglaterra”,
Em política três anos,
eternidade,
Fórmula 1,
impeachment,
lobbies,
opinião pública,
quatro estrelas,
reeleição,
Santos Cruz,
serviço público
Assinar:
Postagens (Atom)
